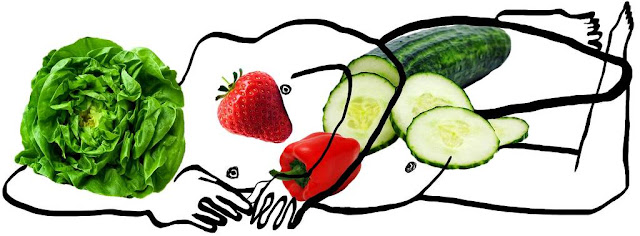Eu gosto de goiaba, mas não gosto de comer goiaba. Ela tem uns caroços que não são grandes, mas são duros: você deve mastigar com cuidado, só até seus dentes tocarem um caroço, então para --é como se nunca pudesse fruir plenamente das potencialidades da goiaba.
Eu gostava da Alice, mas não gostava de namorar a Alice. Ela tinha umas implicâncias que não eram grandes, mas eram pétreas: eu tinha que me aproximar com cuidado, só até roçar em suas defesas --era como se eu nunca pudesse fruir plenamente das potencialidades da Alice.
Quando terminamos, pensei: nossa, que mulher incrível seria Alice sem caroços!
*
Uma noite, muito tempo depois de terminarmos, Alice apareceu aqui em casa. Com outras palavras, disse que eu só era capaz de me relacionar com maçãs: pessoas homogêneas, medíocres, com quem você pode conviver sem se preocupar com a casca, os caroços, segurando pelo cabinho, sem melar as mãos.
Uma noite, muito tempo depois de terminarmos, Alice apareceu aqui em casa. Com outras palavras, disse que eu só era capaz de me relacionar com maçãs: pessoas homogêneas, medíocres, com quem você pode conviver sem se preocupar com a casca, os caroços, segurando pelo cabinho, sem melar as mãos.
Acho que ela via a si própria como uma espécie de romã.
*
A banana é uma das frutas mais saborosas que existem e é, sem dúvida, a mais fácil de comer. O que joga por terra a falácia de que as pessoas interessantes ou inteligentes ou talentosas devem ser antipáticas, cheias de caroços ou difíceis de descascar. (Pena que, naquela noite, não pensei nisso.)
A banana é uma das frutas mais saborosas que existem e é, sem dúvida, a mais fácil de comer. O que joga por terra a falácia de que as pessoas interessantes ou inteligentes ou talentosas devem ser antipáticas, cheias de caroços ou difíceis de descascar. (Pena que, naquela noite, não pensei nisso.)
*
Chega de Alice. Falemos de coisas boas.
Chega de Alice. Falemos de coisas boas.
*
A manga é a picanha do reino vegetal. Se o mundo fosse justo, seria a manga, não a maçã, o paradigma da fruta; "pomme", em francês, seria manga; a serpente ofereceria manga a Adão e Eva (ah, o sexo que perdemos!*); Steve Jobs teria ficado rico pondo suas manguinhas de fora; Newton teria tirado a famosa soneca à sombra de uma mangueira.
A manga é a picanha do reino vegetal. Se o mundo fosse justo, seria a manga, não a maçã, o paradigma da fruta; "pomme", em francês, seria manga; a serpente ofereceria manga a Adão e Eva (ah, o sexo que perdemos!*); Steve Jobs teria ficado rico pondo suas manguinhas de fora; Newton teria tirado a famosa soneca à sombra de uma mangueira.
Não: se uma manga caísse na cabeça de Newton, ele a teria comido e mandado a física pras cucuias --que gravidade resiste a este Sol da Terra?
*
Nunca achei a menor graça na Audrey Hepburn --uma uva, diriam muitos: não discordarei, mas prefiro as mangas; ah, Scarlett Johansson!
Nunca achei a menor graça na Audrey Hepburn --uma uva, diriam muitos: não discordarei, mas prefiro as mangas; ah, Scarlett Johansson!
*
Outro dia, meu pai veio me visitar e trouxe uma caixa de caquis, lá de Sorocaba. Eu os lavei, botei numa tigela na varanda e comemos um por um, num silêncio reverencial, nos olhando de vez em quando. Enquanto comia, eu pensava: Deus do céu, como caqui é bom! Caqui é maravilhoso! O que tenho feito eu desta curta vida, tão afastado dos caquis?!
Outro dia, meu pai veio me visitar e trouxe uma caixa de caquis, lá de Sorocaba. Eu os lavei, botei numa tigela na varanda e comemos um por um, num silêncio reverencial, nos olhando de vez em quando. Enquanto comia, eu pensava: Deus do céu, como caqui é bom! Caqui é maravilhoso! O que tenho feito eu desta curta vida, tão afastado dos caquis?!
Meus amigos e amigas e parentes queridos são como os caquis: nunca os encontro. Quando os encontro, relembro como é prazeroso vê-los, mas depois que vão embora me esqueço da revelação. Por que não os vejo sempre, toda semana, todos os dias desta curta vida?
Já sei: devem ficar escondidos de mim, guardados numa caixa, lá em Sorocaba.
*Ver "A Verdadeira História do Paraíso", de Millôr Fernandes (Editora Desiderata).